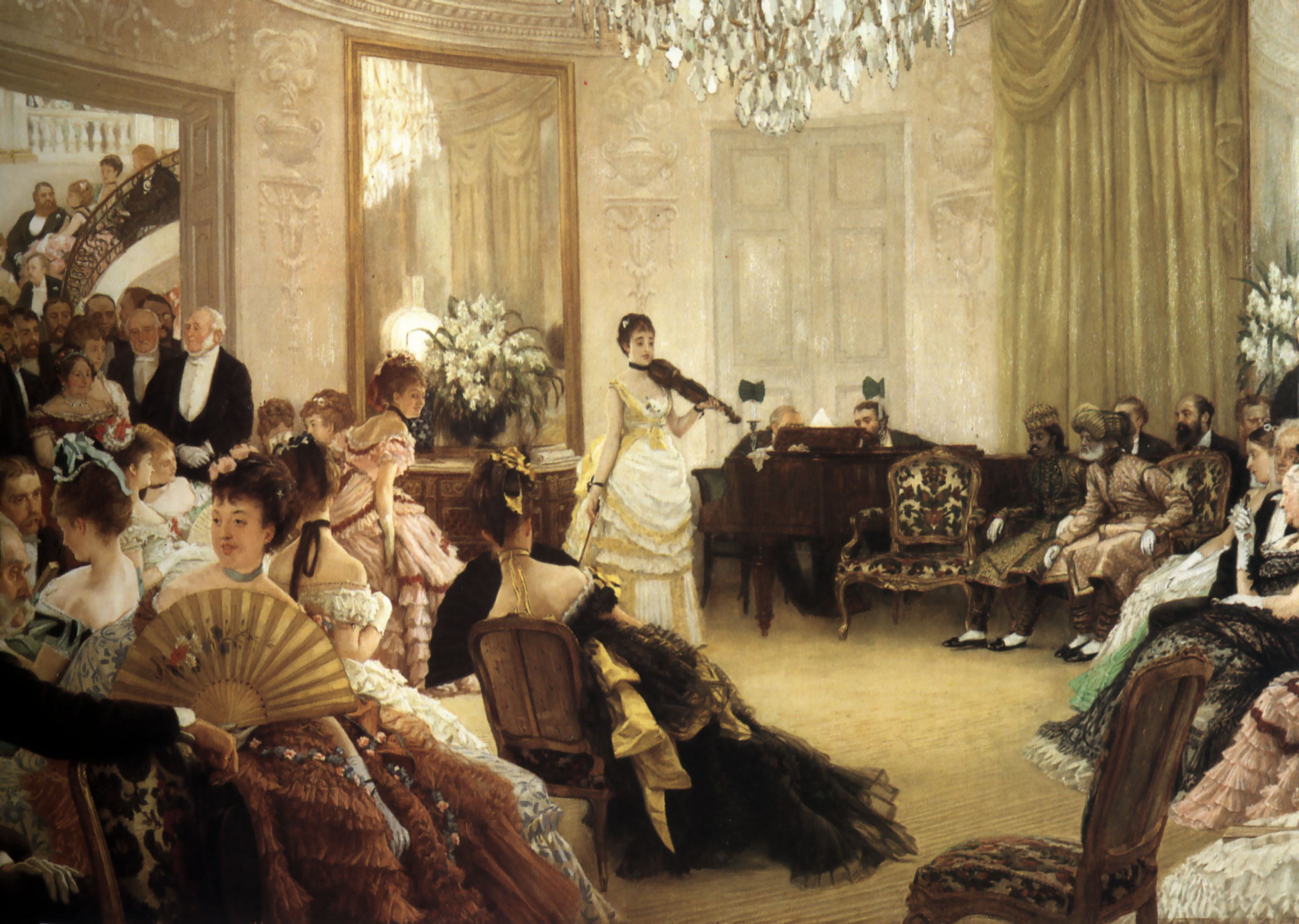A Revolução Russa de 1917 não foi apenas um episódio de ruptura política, mas um marco na história mundial. Ela deu fim ao regime czarista e iniciou a experiência socialista mais influente do século XX, afetando não apenas o destino da Rússia, mas também os rumos da política global. Sua complexidade exige uma análise que vá além da narrativa de “boas intenções revolucionárias”, incorporando a longa duração, as contradições sociais e o peso das escolhas humanas em meio ao caos.
O estopim de um sistema falido
O Império Russo, sob o comando da dinastia Romanov, mantinha-se preso a uma estrutura autoritária, patrimonialista e profundamente desigual, mesmo diante das transformações que já alcançavam a Europa Ocidental desde o século XIX. O czar Nicolau II, último representante do absolutismo russo, assumiu o trono em 1894 e demonstrou grande dificuldade em lidar com os desafios do seu tempo: industrialização tardia, tensões sociais crescentes, movimentos revolucionários e uma guerra desastrosa.
De acordo com o historiador conservador Richard Pipes, a derrocada do regime czarista “não foi inevitável, mas resultado direto da incompetência e indecisão de Nicolau II diante das crises” (PIPES, 1990, p. 57). Sua insistência em governar por direito divino e sua recusa em dividir o poder com instituições representativas impediram qualquer possibilidade de reforma gradual. Mesmo após a Revolução de 1905 e a criação da Duma (parlamento russo), o czar manteve o controle centralizado, anulando a eficácia dessa tentativa de modernização política.
Do ponto de vista da historiografia marxista, a crise do czarismo refletia as contradições estruturais do modo de produção russo, que combinava formas feudais com elementos de um capitalismo industrial emergente. Segundo E. H. Carr, "o Império Russo, com sua aristocracia latifundiária e massa camponesa submetida, era um anacronismo histórico no contexto do capitalismo europeu" (CARR, 1980, p. 45). Essa combinação gerava tensões insustentáveis: a nobreza desejava manter seus privilégios, enquanto operários e camponeses exigiam melhores condições de vida.
Já a Escola dos Annales, por meio da noção de longa duração, ajuda a compreender o peso das estruturas herdadas. Fernand Braudel, por exemplo, observa que “a sociedade russa era, no início do século XX, ainda fortemente marcada pelas estruturas do Antigo Regime — uma economia rural, relações clientelistas e um Estado centralizador com traços patrimoniais” (BRAUDEL, 1981, p. 40). Isso significa que a revolução não surgiu do nada: foi resultado de pressões acumuladas por séculos.
A Nova História, por sua vez, lança luz sobre as experiências e vozes das pessoas comuns. Para a historiadora Sheila Fitzpatrick, “o descontentamento popular não era apenas uma questão ideológica, mas visceral: fome, exploração, repressão e falta de perspectivas uniam os camponeses analfabetos dos campos aos operários das fábricas de Petrogrado” (FITZPATRICK, 2008, p. 21). O Estado imperial, longe de ser uma entidade moderna e eficiente, era percebido como um obstáculo à sobrevivência.
A Primeira Guerra Mundial (1914–1918) serviu como catalisador do colapso. A Rússia entrou no conflito com uma estrutura logística precária, falta de equipamentos e soldados mal treinados. A derrota humilhante frente à Alemanha, combinada à escassez de alimentos nas cidades e inflação galopante, fez com que o apoio popular ao czarismo evaporasse. A guerra revelou, em última instância, a falência do Estado imperial russo, incapaz de proteger seu povo ou de se adaptar à modernidade.
Assim, o estopim da Revolução Russa não pode ser atribuído a um único fator ou momento, mas a um acúmulo de fragilidades históricas. O modelo autocrático, alicerçado na tradição, na repressão e no medo, encontrou seu limite diante de uma sociedade que já não suportava mais as condições de existência. Como lembra Leon Trotsky, “os regimes caem quando se tornam insuportáveis, mesmo aos olhos daqueles que antes os sustentavam” (TROTSKY, 1932, p. 11).
Duas revoluções em um ano
Em fevereiro de 1917 (março no calendário ocidental), uma série de greves e revoltas populares derrubou o czar. Um governo provisório assumiu, liderado por liberais e moderados, mas incapaz de resolver os problemas centrais: a fome, a guerra e a distribuição de terra. Foi nesse vácuo de poder que os sovietes — conselhos de trabalhadores, soldados e camponeses — começaram a se destacar.
Em outubro (novembro no calendário ocidental), os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder com a promessa de “paz, terra e pão”. Para o historiador marxista Eric Hobsbawm, “a Revolução de Outubro foi um divisor de águas, o primeiro grande ensaio prático da teoria marxista em escala nacional” (HOBSBAWM, 1995, p. 60).
Ruptura ou continuidade?
A Revolução Russa de 1917 é frequentemente lembrada como um dos maiores marcos de ruptura política e ideológica do século XX. No entanto, diversos historiadores problematizam essa ideia de ruptura total, destacando que mudanças radicais nem sempre eliminam as estruturas anteriores de forma imediata. A história, nesse sentido, não é feita apenas de eventos espetaculares, mas de processos complexos, camadas de permanência e movimentos contraditórios.
A Escola dos Annales, que revolucionou a historiografia no século XX, propôs um olhar atento às estruturas de longa duração – aquelas instituições, mentalidades e práticas que resistem às transformações rápidas. Nesse espírito, Fernand Braudel afirma que, mesmo em momentos de revolução, elementos estruturais permanecem. No caso da Rússia, ele observa que “a base camponesa, a economia agrária e as formas de autoridade centralizadas resistiram à mudança, mesmo sob o novo regime” (BRAUDEL, 1981, p. 38). Assim, apesar da retórica socialista e da derrubada do czarismo, muitas formas de dominação – como o centralismo, o autoritarismo e a dependência do campo – se mantiveram sob outra roupagem, como o Estado soviético centralizado e dirigido por um partido único.
Essa leitura encontra eco em Alexander Gerschenkron, historiador especializado em economia russa, que analisou o desenvolvimento desigual do país. Para ele, a industrialização forçada sob os bolcheviques não rompeu com o passado autoritário, mas adaptou velhas formas de coerção a novos fins políticos e econômicos. Isso reforça a tese de que a revolução foi tanto uma transformação quanto uma continuidade de práticas autocráticas sob um novo nome.
Por outro lado, a Nova História, especialmente em sua vertente social e cultural, questiona os discursos totalizantes e heroicos da Revolução. Para Sheila Fitzpatrick, a Revolução de 1917 não pode ser reduzida às figuras de Lenin ou Trotsky, nem às estratégias do Partido Bolchevique. Ao invés disso, ela propõe uma leitura a partir das experiências populares. “Não houve apenas um Lenin e seus planos, mas milhares de trabalhadores e camponeses que moldaram a revolução com seus próprios desejos e esperanças” (FITZPATRICK, 2008, p. 14). Esses agentes comuns, muitas vezes esquecidos nas narrativas oficiais, também agiram, se revoltaram, improvisaram e deram à Revolução significados próprios — nem sempre alinhados com o projeto marxista-leninista.
Essa abordagem conecta-se com os estudos da historiografia marxista britânica, como os de E. P. Thompson, que valorizam a agência das classes subalternas. Embora Thompson tenha se concentrado na Inglaterra, sua metodologia inspira uma leitura da Revolução Russa como um processo contraditório, dialético, não controlado inteiramente pela vanguarda do partido. Isso nos leva a perceber a Revolução como campo de disputas, não apenas entre classes, mas entre visões de mundo e projetos de sociedade.
Já os historiadores conservadores, como Orlando Figes, apontam que, apesar das mudanças discursivas e ideológicas, a Revolução Russa produziu formas de repressão política tão severas quanto as do czarismo. Segundo Figes, “o regime bolchevique herdou e até intensificou os mecanismos de controle social, como a censura, o policiamento político e a violência de Estado” (FIGES, 1996, p. 385). Para ele, a continuidade não foi apenas estrutural, mas também moral: o projeto de redenção social se transformou em uma nova forma de opressão.
Portanto, entre rupturas simbólicas e continuidades práticas, a Revolução Russa se revela um evento multifacetado. A ruptura com o czarismo é inegável no plano institucional, mas muitas estruturas de poder, formas de dominação e hábitos sociais sobreviveram à queda do antigo regime. A tensão entre utopia e realidade, entre os planos do partido e as vozes do povo, compõe a riqueza e a complexidade desse processo histórico, cuja memória ainda provoca debates acalorados entre diferentes tradições historiográficas.
As consequências imediatas
Logo após a tomada do poder em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, enfrentaram o desafio de consolidar um regime ainda frágil e sem legitimidade universal. A primeira medida de impacto foi o Tratado de Brest-Litovski, assinado com a Alemanha em março de 1918, pelo qual a Rússia se retirava da Primeira Guerra Mundial em troca da perda de vastos territórios. Embora tenha garantido paz temporária, o acordo causou revolta entre nacionalistas e antigos aliados do governo provisório, contribuindo para o início da Guerra Civil Russa.
Internamente, o novo governo empreendeu reformas radicais. Os bancos foram nacionalizados, grandes indústrias foram colocadas sob controle estatal e os latifúndios foram expropriados, promovendo uma redistribuição de terras entre camponeses. Tais medidas visavam destruir as bases do capitalismo e acelerar a construção de uma economia socialista. No entanto, o ideal revolucionário rapidamente deu lugar à necessidade de manutenção do poder a qualquer custo.
A Guerra Civil (1918–1921), travada entre os bolcheviques (o Exército Vermelho) e uma ampla coalizão de adversários (o Exército Branco, formado por monarquistas, liberais, socialistas rivais e potências estrangeiras), mergulhou o país em uma espiral de violência. Nesse contexto, Lenin instituiu o chamado “comunismo de guerra”, política que incluía a requisição forçada de grãos, o racionamento e a centralização total da economia. A consequência foi a fome generalizada, o colapso da produção e a insatisfação popular crescente.
Para garantir o domínio político, os bolcheviques criaram a Cheka, polícia política encarregada de eliminar opositores. O período conhecido como “Terror Vermelho” (1918–1922) ficou marcado por prisões em massa, torturas, execuções sumárias e repressão ideológica. Milhares foram mortos ou deportados sob a acusação de sabotagem ou contrarrevolução, incluindo líderes mencheviques, anarquistas e religiosos. Essa guinada autoritária decepcionou muitos apoiadores iniciais da Revolução, inclusive intelectuais e socialistas de outras correntes.
Para o filósofo conservador Nicolas Berdiaev, que testemunhou e depois foi exilado pelo regime, o projeto revolucionário traiu seus próprios princípios. “A nova ordem revolucionária, em nome da liberdade, instaurou uma nova tirania” (BERDIAEV, 1937, p. 78). Berdiaev via o marxismo leninista não como libertador, mas como uma continuação do messianismo russo em nova roupagem, sacrificando o indivíduo em nome de uma coletividade abstrata e opressora.
Historiadores marxistas mais críticos, como Isaac Deutscher, reconhecem os excessos do período, mas argumentam que a repressão foi uma resposta às circunstâncias extremas da guerra civil e da sabotagem interna, e não uma essência do projeto bolchevique. Para ele, “o leninismo não estava predestinado ao terror; este foi, antes, uma tragédia das circunstâncias” (DEUTSCHER, 1963, p. 215). Já estudiosos liberais, como Richard Pipes, sustentam que a violência foi instrumental e planejada desde o início, sendo o autoritarismo uma marca constitutiva do regime soviético.
Essas interpretações contrastantes demonstram que o período imediato à Revolução Russa foi ambíguo e contraditório: ao mesmo tempo em que buscava justiça social e igualdade, instaurava práticas que negavam liberdades fundamentais. A nova ordem não apenas enfrentou antigos inimigos, mas também instituiu um sistema que perseguia dissidências internas, plantando as sementes de um regime que, mais tarde, floresceria em moldes ainda mais repressivos sob Stalin.
Conclusão
A Revolução Russa foi resultado de uma crise histórica complexa: política, econômica, social e cultural. Ela representou tanto um grito de libertação quanto a semente de novas formas de dominação. Ao contrário de visões maniqueístas, o evento deve ser compreendido como parte de um processo profundo e contraditório, em que estruturas herdadas e decisões humanas colidiram de forma explosiva.
Referências
BERDIAEV, Nicolas. A origem e o sentido do comunismo russo. São Paulo: É Realizações, 1937.
BRAUDEL, Fernand. Dinâmica do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
DEUTSCHER, Isaac. O profeta armado: Trotsky, 1879-1921. Rio de Janeiro: Zahar, 1963.
FIGES, Orlando. A tragédia de um povo: a Revolução Russa (1891–1924). São Paulo: Record, 1996.
FITZPATRICK, Sheila. A Revolução Russa. São Paulo: UNESP, 2008.
GERSCHENKRON, Alexander. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: Belknap Press, 1962.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
PIPES, Richard. A Revolução Russa. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
TROTSKY, Leon. História da Revolução Russa. São Paulo: Sundermann, 1932.